O NASCIMENTO DE UM CIDADÃO
Moacyr Sciliar
Para renascer, e às
vezes para nascer, é preciso morrer, e ele começou
morrendo. Foi uma
morte até certo ponto anunciada, precedida de uma lenta e
ignominiosa agonia.
Que teve início numa Sexta-feira. O patrão chamou-o e disse, num
tom quase casual, que
ele estava despedido: contenção de custos, você sabe como é, a
situação não está
boa, tenho que dispensar gente.
Por mais que esperasse
esse anúncio - que na verdade até tardara um pouco,
muitos outros já
haviam sido postos na rua - foi um choque. Afinal, fazia cinco anos que
trabalhava na
empresa. Um cargo modesto, de empacotador, mas ele nunca pretendera
mais: afinal, mal
sabia ler e escrever. O salário não era grande coisa, mas permitiralhe,
com muito esforço,
sustentar a família, esposa e dois filhos pequenos. Mas já não
tinha salário, não
tinha emprego - não tinha nada.
Passou no
departamento de pessoal, assinou os papéis que lhe apresentaram,
recebeu seu
derradeiro pagamento, e, de repente, estava na rua. Uma rua movimentada,
cheia de gente
apressada. Gente que vinha de lugares e que ia para outros lugares.
Gente que sabia o que
fazer.
Ele, não. Ele não
sabia o que fazer. Habitualmente iria para casa, contente com
a perspectiva do fim
de semana, o passeio no parque com os filhos, a conversa com os
amigos. Agora, a
situação era outra. Como poderia chegar a casa e contar à mulher
que estava
desempregado? A mulher, que se sacrificava tanto, que fazia das tripas
coração para manter a
casa funcionando? Para criar coragem, entrou num bar, pediu
um martelo de
cachaça, depois outro e mais outro. A bebida não o reconfortava; ao
contrário, sentia-se
cada vez pior. Sem alternativa, tomou o ônibus para o humilde
bairro em que morava.
A reação da mulher
foi ainda pior do que ele esperava. Transtornada; torcia as
mãos e gritava
angustiada, o que é que vamos fazer, o que é que vamos fazer. Ele tentou
encorajá-la, disse
que de imediato procuraria emprego. De imediato significava,
naturalmente,
segunda-feira; mas antes disto havia sábado e domingo, muitas horas
penosas que ele teria
de suportar. E só havia um jeito de fazê-lo: bebendo. Passou o fim
de semana embriagado.
Embriagado e brigando com a mulher.
Quando, na
segunda-feira, saiu de casa para procurar trabalho, sentia-se de
antemão derrotado.
Foi a outras empresas, procurou conhecidos, esteve no sindicato;
como antecipara, as
respostas eram negativas. Terça foi a mesma coisa, quarta
também, e quinta, e
sexta. O dinheiro esgotava-se rapidamente, tanto mais que o filho
menos, de um ano e
meio, estava doente e precisava ser medicado. E assim chegou o fim
de semana. Na sexta à
noite ele tomou uma decisão: não voltaria para casa.
Não tinha como
fazê-lo. Não poderia ver os filhos chorando, a mulher a mirá-lo
com ar acusador.
Ficou no bar até que o dono o expulsou, e depois saiu a caminhar,
cambaleante. Era
muito tarde, mas ele não estava sozinho. Nas ruas havia muitos como
ele, gente que não
tinha onde morar, ou que não queria um lugar para morar. Havia um
grupo deitado sob uma
marquise, homens, mulheres e crianças. Perguntou se podia
ficar com eles.
Ninguém lhe respondeu e ele tomou o silêncio como concordância.
Passou a noite ali,
dormindo sobre jornais. Um sono inquieto, cheio de pesadelos. De
qualquer modo,
clareou o dia e quando isto aconteceu ele sentiu um inexplicável alívio:
era como se tivesse
ultrapassado uma barreira, como se tivesse morrido. Morrer não
lhe parecia tão ruim,
muitas vezes pensara em imitar o gesto do pai que, ele ainda
criança, se atirara
sob um trem. Muitas vezes pensava nesse homem, com quem nunca
tivera muito contato
e imaginava-o sempre sorrindo (coisa que em realidade raramente
acontecia) e feliz.
Se ele próprio não se matara, fora por causa da família: agora, que a
família era coisa do
passado, nada mais o prendia à vida.
Mas também nada o
empurrava para a morte. Porque, num certo sentido, era um
morto - vivo. Não
tinha passado e também não tinha futuro. O futuro era uma incógnita
que não se preocupava
em desvendar. Se aparecesse comida, comeria; se aparecesse
bebida, beberia,
beberia (e bebida nunca faltava; comprava-a com esmolas. Quando
não tinha dinheiro
sempre havia alguém para alcançar-lhe uma garrafa). Quanto ao
passado, começava a
sumir na espessa névoa de um olvido que o surpreendia – como
esqueço rápido as
coisas, meu Deus – mas que não recusava: ao contrário, recebia-o
como uma bênção. Como
uma absolvição. A primeira coisa que esqueceu foi o rosto do
filho maior, garoto
chato, sempre a reclamar, sempre a pedir coisas. Depois, foi o filho
mais novo, que também
chorava muito, mas que não pedia nada – ainda não falava. Por
último, foi-se a face
devastada da mulher, aquela face que um dia ele achara bela, que
lhe aquecera o
coração. Junto com os rostos, foram os nomes. Não lembrava mais como
se chamavam.
E aí começou a
esquecer coisas a respeito de si próprio. A empresa em que
trabalhara. O
endereço da casa onde morara. A sua idade – para que precisava saber a
idade? Por fim,
esqueceu o próprio nome.
Aquilo foi mais
difícil. É verdade que, havia muito tempo, ninguém lhe chamava
pelo nome. Vagando de
um lado para outro, de bairro em bairro, de cidade em cidade,
todos lhe eram
desconhecidos e ninguém exigia apresentação. Mesmo assim foi certa
inquietação que pela
primeira vez se perguntou: como é mesmo o meu nome? Tentou,
por algum tempo se
lembrar. Era um nome comum, sem nenhuma peculiaridade, algo
como José da Silva
(mas não era José da Silva); mas isto, ao invés de facilitar, só lhe
dificultava a tarefa.
Em algum momento tivera uma carteira de identidade que sempre
carregara consigo;
mas perdera esse documento. Não se preocupara – não lhe fazia
falta. Agora esquecia
o nome... Ficou aborrecido, mas não por muito tempo. É alguma
doença, concluiu, e
esta explicação o absolvia: um doente não é obrigado a lembrar
nada.
De qualquer modo,
aquilo mexeu com ele. Pela primeira vez em muito tempo –
quanto tempo? Meses,
anos? – decidiu fazer alguma coisa. Resolveu tomar um banho. O
que não era habitual
em sua vida, pelo contrário: já não sabia mais há quanto tempo
não se lavava. A
sujeira formava nele uma crosta – que de certo modo o protegia.
Agora, porém,
trataria de lavar-se, de aparecer como fora no passado.
Conhecia um lugar, um
abrigo mantido por uma ordem religiosa. Foi recebido
por um silencioso
padre, que lhe deu uma toalha, um pedaço de sabão e o conduziu até
o chuveiro. Ali
ficou, muito tempo, olhando a água que corria o ralo – escura no início,
depois mais clara.
Fez a barba, também. E um empregado lhe cortou o cabelo, que lhe
chegara aos ombros.
Enrolado na toalha, foi buscar as roupas. Surpresa:
- Joguei fora –
disse o padre. – Fediam demais.
Antes que ele pudesse
protestar, o padre entregou-lhe um pacote:
- Tome. É uma
roupa decente.
Ele entrou no
vestiário. O pacote continha cuecas, camisa, uma calça, meias,
sapatos. Tudo usado,
mas em bom estado. Limpo. Ele vestiu-se, olhou no
espelho. E ficou
encantado: não reconhecia o homem que via ali. Ao sair, o
padre, de trás de um
balcão, interpelou-o:
- Como é mesmo o
seu nome?
Ele não teve coragem
de confessar que esquecera como se chamava.
- José da Silva
O padre lançou-lhe um
olhar penetrante – provavelmente todos ali eram José da
Silva – mas não disse
nada. Limitou-se a fazer uma anotação num grande
caderno.
Ele saiu. E sentia-se
outro. Sentia-se como que – embriagado? – sim, como que
embriagado. Mas
embriagado pelo céu, pela luz do sol, pelas árvores, pela
multidão que enchia
as ruas. Tão arrebatado estava que, ao atravessar a
avenida, não viu o
ônibus. O choque, tremendo, jogou-o à distância. Ali ficou,
imóvel, caído sobre o
asfalto, as pessoas rodeando-o. Curiosamente, não tinha
dor; ao contrário,
sentia-se leve, quase que como flutuando. Deve ser o banho,
pensou.
Alguém inclinou sobre
ele, um policial. Que lhe perguntou:
- Como é que está,
cidadão? Dá pra agüentar, cidadão?
Isso ele não sabia.
Nem tinha importância. Agora sabia quem era. Era um
cidadão. Não tinha
nome, mas tinha um título: cidadão. Ser cidadão era, para
ele, o começo de
tudo. Ou o fim de tudo. Seus olhos se fecharam. Mas seu rosto
se abriu num sorriso.
O último sorriso do desconhecido, o primeiro sorriso do
cidadão.
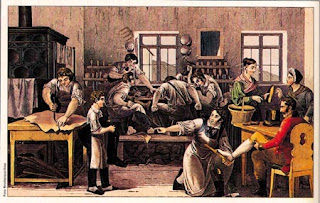
Comentários
Postar um comentário